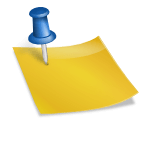HISTÓRIAS DE OFICIALAS DE JUSTIÇA – Cátia Cilene Santos
A mão que balança o berço nem sempre é a mão que protege!
Oficiala de Justiça – Comarca de São Leopoldo
Ser Oficial de Justiça reclama uma boa dose de equilíbrio emocional, imparcialidade, intuição, bom senso, raciocínio rápido e lógico, prudência, empatia, muita atenção, comprometimento, conhecimento jurídico, um coração forte e, às vezes, uma boa dose de ousadia (predicados meramente exemplificativos).
Revisitei mentalmente inúmeras ordens judiciais que passaram pelas minhas mãos nos vinte anos de profissão, os quais desafiaram esses atributos em alta medida. Uma delas, envolvendo uma menina de doze anos, sobressaiu-se nas lembranças.
Era mais um dia de plantão, dias nos quais costumamos dizer que “acordamos para matar ou para morrer”. Às minhas mãos chegou um mandado de busca e apreensão em que a criança deveria ser entregue à mãe. Como de praxe, ela, juntamente com o companheiro, padrasto da menina, iriam acompanhar a diligência. Com o intuito de inteirar-me da situação, fiz alguns questionamentos sobre o motivo pelo qual a medida em tela se mostrou necessária. O casal esclareceu que a menina foi visitar o pai biológico e, com o aval dele, não mais retornou. A caminho do endereço, fui colhendo informações que suscitaram dúvidas para as quais o esclarecimento veio adiante.
O padrasto relatou que a menina preferia a companhia do pai, a fim de fugir de pequenas tarefas domésticas que lhes eram conferidas na casa materna, pois na casa paterna havia apenas o que ele chamou de “sombra e água fresca”. A mãe relatou o péssimo relacionamento com a ex-sogra que, segundo ela, sabotava seu relacionamento com a filha. Essa a primeira versão dos fatos.
Chegamos na escola onde a menina estudava. Quando me apresentei com a identificação de estilo e dei ciência da ordem judicial à Diretora da instituição, fui advertida por um olhar gélido, acompanhado da seguinte resposta: “daqui não sairá criança alguma”. A convicção com que foi proferida tal assertiva produziu em mim aquele mal-estar que anuncia a tempestade iminente. Nesse ínterim, acercaram-se de nós a orientadora pedagógica e a professora da menina, enquanto a secretária já providenciava telefonemas para o conselho tutelar e pai biológico. Em pouco tempo eu estava cercada de pessoas flagrantemente apavoradas, revoltadas e indignadas comigo. Respirei, a longos haustos, uma boa dose de fé pública e procurei entender qual capítulo da estória foi perdido, uma vez que estava me achando a heroína que devolveria a filha à mãe.
Diante da negativa veemente da direção da escola, tomei uma decisão que, com certeza, será repudiada por alguns colegas Oficiais de Justiça que advogam a soberania de nossas percepções e decisões numa diligência em curso. Telefonei para o magistrado, prolator da ordem e expus a situação. Resposta: “Cátia, inteira-te de tudo que está acontecendo e decide o melhor a fazer”. A partir daquele momento, naquela situação particular, eu não era somente o “longa manus” do juiz, eu era o próprio.
Solicitei uma sala afastada onde tomei a providência de ouvir todos os envolvidos: a avó paterna que já estava presente, a professora, a conselheira tutelar e a diretora. Todos esses personagens foram uníssonos num ponto: a menina era maltratada pela mãe e pelo padrasto, sendo obrigada a cuidar dos irmãos menores e a fazer todas as tarefas domésticas sob ameaças de agressão física se houvesse recusa. A mãe era uma doidivana que não tinha o menor apreço pela filha, tida apenas na conta de uma serviçal necessária para lhe poupar dos serviços domésticos.
E o leitor pode estar se perguntando: e a menina, foi ouvida? Sim, senhores, foi ouvida. Tive a oportunidade de exercitar a “faceta psicólogo” que todo Oficial de justiça é compelido a desenvolver por exigência do seu mister. Diante de mim apresentou-se uma menininha magrinha, olhos arregalados e que ao tomar conhecimento de que poderia voltar à casa da mãe, começou a chorar copiosamente e a tremer. Naquele momento, apressei-me em esclarecer que estava ali para fazer o melhor a ela, sendo sua vontade, soberana. Sentindo-se amparada, talvez, e mais calma, descreveu com suas palavras o que os adultos já haviam revelado: era a empregada da casa e apanhava do padrasto com o consentimento da mãe. Finalizou o relato entre lágrimas e com voz quase inaudível disse: “tia, não quero voltar, por favor”.
Após as oitivas, chamei o casal e comuniquei a decisão: “a menina não será entregue a vocês”. O padrasto quis levantar a voz, mas a forma como o fitei acompanhada da frase: “sua manifestação está encerrada”, foi o suficiente para desencorajá-lo a prosseguir. Vou poupá-los das colocações que fiz àquela mulher que um dia pode ter balançado um berço, mas, salvo melhor juízo, não poderia ser chamada de mãe, na acepção que esse termo comporta. Julguei? Sim. E sentenciei. Afinal, ao menos naquele caso pontual, a juíza do feito era eu.
Esse é um capítulo do livro da vida profissional de um Oficial de Justiça. Nossa lida é solitária, o palco de nossa atuação é a rua, lugar onde a caneta não alcança, a violência se desenrola, a miséria chora, o abandono grita, a tristeza dança e a vida acontece como ela é. E por essa razão, senhores, não é exagero dizer que, nesse cenário, somos os olhos, os ouvidos, as mãos e a voz da justiça.
Esse texto faz parte da campanha da ABOJERIS "Histórias de Oficialas de Justiça". Para contar sua história e conhecer todas as demais, clique em no link abaixo. Compartilhe essa ideia e envie sua história!