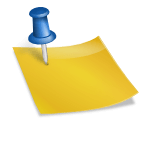HISTÓRIAS DE OFICIALAS DE JUSTIÇA – Karen Schroder
Os olhos da Justiça
Oficiala de Justiça – Comarca de Osório
Recentemente, e por mais de uma oportunidade, quando de alguma eventual consulta extra certidão, ouvi de um dos magistrados com quem atuo: “Karen, vocês são os nossos olhos, vocês são os olhos da Justiça”.
Até então, muito havia escutado que eu sou a “longa manus” da Justiça, expressão que carrega em si o entendimento de que somos a ação efetiva do Poder Judiciário no seio social. Pois bem. Passei a refletir sobre também ser “os olhos da Justiça”, além de ser a mão longa que perfectibiliza as decisões judiciais. Não que não soubesse disso. Sei que sim. Mas talvez nunca tivesse dado o tom reflexivo que, de fato, merece essa afirmação.
E por que foi que essa afirmação me trouxe essa importante reflexão? Porque foi proferida por um magistrado? Talvez. Mas muito mais que isso. Porque me fez refletir que, em muitas ocasiões, somos o meio pelo qual os juízes “enxergam” a realidade dos fatos. Passei então a entender a mim mesma, e a todo colega oficial de Justiça, como a mão e os olhos da Justiça.
E de fato é isso. Automaticamente me vieram à memória inúmeras situações de cumprimento de mandados em que a minha atuação, “in loco”, ou em contato com as partes, trouxe algo novo aos autos, modificando a forma como o magistrado “enxergava” o caso.
Lembro-me do cumprimento de um mandado de Reintegração de Posse, em uma das comarcas em que atuei, que muito me marcou. Eu tomei a decisão de suspender a diligência, durante seu curso, por me deparar com algo que, naquele momento, não me permitiu prosseguir. Em que pese estivesse portando uma determinação judicial, e contrariamente à pretensão da parte autora, que desejava ver levada a efeito, naquele mesmo dia, a decisão tão aguardada, decidi parar. Sob protestos.
Tratava-se de um bar. Aparentemente um bar, do tipo que vende bebidas alcoólicas e disponibiliza mesa de jogo de bilhar. Muito simples, popular. O réu, um senhor de meia-idade, já havia tomado conhecimento da ordem, inclusive da data de cumprimento e do horário, pois eu realizei diligência prévia de comunicação, para não pegá-lo de surpresa. Já nesta ocasião ele me declarou que do local só sairia morto, pois não teria para onde ir com sua família, que, segundo me informou, era composta por mulher, filho e sogra. Foi então que entendi que aquele local, que aparentava ser apenas um bar, era também uma residência.
Na data de cumprimento da medida, acompanhada de guarnição da brigada militar, deparei-me com o imóvel fechado (mas já o havia encontrado aberto, em outras ocasiões, no mesmo horário). Previ que não seria fácil. E lembrei da declaração do homem, de que só sairia dali morto. Comuniquei isso aos policiais, que chamaram reforço, pois o risco de que o destinatário da ordem possuísse uma arma era real. Comecei a bater na porta do imóvel e a chamar o ocupante. Silêncio. Após uns 15 minutos – sem fazer uso da autorização de arrombamento, a fim de evitar algum evento que pusesse em risco a segurança de todos –, o homem apareceu em uma pequena janela do bar, chorando e implorando que não o tirasse de lá. Pedi, calmamente, que abrisse o imóvel, para que pudéssemos entrar e conversar. Ele abriu. E imediatamente sentou em uma cadeira defronte a uma das mesas plásticas, debruçou-se sobre ela e caiu no mais profundo pranto que eu já presenciei. Mas, ainda assim, com muita conversa e explicação, eu estava determinada a cumprir meu ofício. A um canto, no fundo da peça, atrás de uma porta entreaberta, avistei a cabeça de uma mulher e, mais abaixo, a de um menino, de cerca de seis anos de idade. Ambos com olhos de pavor. O homem, aos soluços, levou a mão ao peito dizendo que não estava se sentindo bem. Um dos policiais perguntou o que ele sentia, e ele respondeu ser “cardíaco”. Imediatamente passei a mão no celular e liguei para o serviço de emergência de saúde. Em poucos minutos, além de mim, dos advogados da parte autora, dos policiais militares, do caminhão de mudança e de cerca de uma dúzia de curiosos, vizinhos e transeuntes que se aglomeravam na calçada do imóvel, compunha o cenário uma ambulância do SAMU.
Aplacado o estado de nervosismo do réu, após ser atendido pelos profissionais de saúde, passei a explorar o local. À medida que adentrava o imóvel, começava a me deparar com um ambiente de extrema miséria. Parte da área destinada à moradia não possuía cobertura, e nessa área mal se podia passar, dada a quantidade de objetos (em sua maioria sucata) e, até mesmo, lixo. Prossegui. Qual não foi minha surpresa ao chegar ao fundo do terreno e encontrar, em uma espécie de quarto, uma senhora, franzina, de 92 anos de idade (conforme assim fui informada pelos seus familiares) e cega! A anciã encontrava-se sobre uma cama de solteiro, encolhida, com os pés para cima do móvel e com os braços em torno dos joelhos, como se tentando proteger-se de algo que não via, mas escutava, e sabia que não era bom. Conversei com ela alguns instantes, e percebi que estava tremendamente assustada. Voltei para a área do bar e pedi ao serviço de saúde que fosse dar-lhe assistência. Assim o fizeram.
Nesse ínterim, fui conversar com os advogados da parte autora. Dei-lhes conhecimento da cena com que me havia deparado no fundo do imóvel, no intuito de obter deles um assentimento para que a diligência não fosse cumprida naquele dia, e que fosse acordado um prazo razoável para que aquela família pudesse sair do local de forma menos traumática. Nada feito. Irredutíveis. Sob a alegação de que a decisão já demorara por demais, e de que seus clientes, há muitos anos, esperavam pela efetividade.
Parei por breves minutos a um canto do local. Pensei. Pensei. Conversei com alguns vizinhos que, notadamente, estavam sensibilizados com a situação daquelas pessoas. Mas nenhum deles manifestou possibilidade de acolhê-los. Tentei contato com a assessoria do magistrado que expedira a ordem. Não consegui. Então decidi. Diante daquele cenário, vendo (olhos da Justiça) o que depois constatei de fato não constar das informações dos autos (uma senhora senil e cega), decidi suspender a medida. Comuniquei a todos. Ouvi os protestos dos advogados dos autores. Tive medo de estar errando. Mas mantive minha decisão de suspender os atos. Fui a última pessoa a deixar o local. Não sem antes me certificar de que aquelas pessoas já não se encontravam apavoradas. E não sem antes deixar bem ciente o réu, de que eu estava tomando aquela decisão por minha conta e risco, e que levaria ao conhecimento do magistrado tudo o que se passara, e que este iria então decidir se lhe seria concedido algum prazo para deixar o imóvel. Mas que uma certeza ele poderia ter: teria de deixar. Ele compreendeu, já bastante mais calmo. Agradeceu-me. Coisa que eu não esperava e que não pensava que me devia. Pois a forma como conduzi a situação foi determinada tão somente pelo que os meus olhos viam. E o que os meus olhos viam era a sua realidade e a de sua família: vulnerabilidade, sem terem para onde ir.
Fui para o fórum. Pus-me a certificar. Três laudas. E o medo de ter errado era presente. Mas, naquele tempo, talvez eu ainda não soubesse que eu era também, além da “longa manus”, os olhos da Justiça. Pois os meu olhos, “emprestados” ao magistrado, fizeram-no conceder o prazo de seis meses para que aquela família desocupasse o imóvel.
Esse texto faz parte da campanha da ABOJERIS "Histórias de Oficialas de Justiça". Para contar sua história e conhecer todas as demais, clique em no link abaixo. Compartilhe essa ideia e envie sua história!